
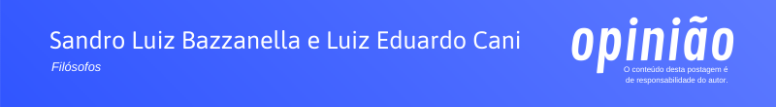 O ódio à democracia vem de longa data. É possível encontrá-lo na acepção grega antiga da palavra: “demos” = Povo e “Kratos”= poder, “poder do povo”, ou mesmo “povo exercendo o poder”. A questão inerente a todo e qualquer regime de governo é quais são os grupos que controlam o poder. Controlar o poder significa exercê-lo a favor de determinados grupos e interesses e, por reverso sobrepondo-se aos interesses dos grupos destituídos do acesso e controle do poder. Para o filósofo francês Michel Foucault (1924 a 1984), o poder não se reside na pessoa do governante, nas instituições, nos cerimoniais de investidura. O poder se constitui e se mantém por meio das relações cotidianas, se fortalece, ou declina no âmbito de toda uma rede de relações microfísicas de poder.
O ódio à democracia vem de longa data. É possível encontrá-lo na acepção grega antiga da palavra: “demos” = Povo e “Kratos”= poder, “poder do povo”, ou mesmo “povo exercendo o poder”. A questão inerente a todo e qualquer regime de governo é quais são os grupos que controlam o poder. Controlar o poder significa exercê-lo a favor de determinados grupos e interesses e, por reverso sobrepondo-se aos interesses dos grupos destituídos do acesso e controle do poder. Para o filósofo francês Michel Foucault (1924 a 1984), o poder não se reside na pessoa do governante, nas instituições, nos cerimoniais de investidura. O poder se constitui e se mantém por meio das relações cotidianas, se fortalece, ou declina no âmbito de toda uma rede de relações microfísicas de poder.
Sob tais prerrogativas, entre os gregos da antiga Atenas berço da democracia ocidental, constata-se que a “democracia” era exercida na Ágora, na praça pública apenas pelos cidadãos. O título de cidadania era concedido a homens, nascidos em Atenas, proprietários de terras, e que tinham aos seus serviços, no âmbito das relações de produção, servos e escravos. O exercício da cidadania, da política era cotidiano exigindo tempo livre, formação intelectual suficiente nos mais diversos assuntos da polis, capacidade de oratória e retórica. Esta formação integral do cidadão ateniense era resultante de longos anos de formação para o exercício da cidadania (Paideia). Escravos, servos, artesãos, estrangeiros e mulheres não tinham direito ao título de cidadania, o que não impedia que pudessem estudar, ou mesmo comprar a própria liberdade.
Sócrates questionava em praça pública os cidadãos, demonstrando os pressupostos falaciosos e excessivamente opinativos da democracia ateniense, desprovidos de ideias consistentes em relação ao que é o bem, o belo e a justiça o que se revelava – segundo o filósofo, considerado pelo oráculo de Delfos, o mais sábio dos homens – em ações desastrosas no plano político, em relação às garantias do espaço público, da Polis como locus do bem viver, do alcance da felicidade. A condenação de Sócrates a morte em 399 a.C., e sua consumação, fez com que seu discípulo Platão decretasse em sua obra “República” o equívoco capital da democracia na forma da tirania da maioria sobre a minoria. Em lugar da democracia, Platão propõe como regime de governo ideal: a “Sofocracia”, o governo dos sábios, daqueles que contemplaram a ideia do bem, do belo e do justo, prerrogativas incumbidas ao Rei Filósofo. Por sua vez, Aristóteles afirmará que três são os regimes de governos ideais, a saber: Monarquia, que se caracteriza pelo governo de um só; Aristocracia, que se caracteriza pelo governo dos melhores e a República que se caracteriza pelo governo de muitos. Porém, o filósofo estagirita adverte para o fato de que também estes regimes de governo podem degenerar transformando-se respectivamente em tirania, oligarquia e democracia.
No contexto da transição das Monarquias absolutistas de fins da Idade Média para os Estados Modernos, assentados política e juridicamente sobre a ideia de contrato social, de direitos naturais (jusnaturalismo), posteriormente de direitos sociais, de independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, especificamente na formulação de Montesquieu, se apresenta a questão da legitimidade do exercício do poder. O Estado no exercício de seu poder soberano detém a exclusividade do uso da violência como condição da ordem contratual. No Estado moderno o poder constituído não se assenta na figura do rei como legítimo herdeiro no seio de uma linhagem dinástica, mas se estabelece a partir da vontade política do poder constituinte. E no interior destas linhas de força que instituíram o Estado moderno, a burguesia, classe economicamente ascendente no contexto mercantilista dos séculos XIV e XV, foi determinante na derrocada das monarquias absolutistas. No conjunto das transformações políticas tratava-se de rearticulação de relações de poder que permitiriam à burguesia não apenas concentrar o poder, mas em controlar os grupos sociais que poderiam ter acesso ao poder de Estado. É sob tais pressupostos que ressurge no Ocidente a democracia em sua variável representativa.
Aqui se trata de ter presente o argumento da politóloga e cientista política alemã Hannah Arendt (1906-1975), de que a modernidade eleva a economia, o fazer produtivo, o trabalho e o consumo (labor) à centralidade da praça pública. A modernidade inaugura a economia política como campo privilegiado de interpretação e ação da política sob os pressupostos os interesses da economia. Assim, a democracia representativa se apresenta como estratégia legitimadora dos interesses do capital no controle e exercício do poder legalizando e legitimando a violência constitutiva da propriedade privada, oferecendo garantias contratuais de liberdade de mercado, decretando os princípios inalienáveis da liberdade individual, da liberdade de iniciativa e, de empreendedorismo. Ou seja, a partir de Foucault, pode-se dizer que se institui um conjunto de técnicas de saber e poder conformadores dos processos de subjetivação necessários a constituição do empresário de si mesmo, do capital humano, do capital social, o sujeito moldado para atender a dinâmica do capital, o homo oeconomicus.
Ou, dito de outra forma, a democracia representativa se constitui como forma de legitimação da concentração do poder político, jurídico, econômico e coercitivo no âmbito das instituições constitutivas do Estado moderno, sob o controle de acesso e exercício do poder por parte dos setores sociais que controlam a produção, a circulação e concentração do capital. Assim, é em defesa de uma suposta ordem democrática representativa que o poder soberano age administrando a natalidade e mortalidade da população, entendia como estoque de recursos humanos, controlando, vigiando e administrando indivíduos e populações em seus hábitos, costumes, desejos e ideias a partir de cálculos de custo e benefício que incidem sobre o capital.
Assim, sob a égide de preservação e ampliação da democracia representativa, o Estado no exercício do poder soberano captura a vida, o corpo biológico dos indivíduos e da população, exercendo seu direito de fazer viver, ou deixar morrer todo e qualquer indivíduo, bem como segmentos da população que porventura não se justificam do ponto de vista dos interesses dos grupos de poder à que o poder soberano está a serviço. Aqui se faz necessária uma distinção em função dos recorrentes equívocos interpretativos, trata-se de ter presente que Estado de direito não é necessariamente uma Estado democrático, mas também de constatar que um Estado intitulado de democrático também não implica a garantia de direitos.
Assim, o Estado Totalitário Nazista, Fascista, ou mesmo o Estado Ditatorial Militar instaurado por meio de golpe de Estado de 1964 no Brasil, salvaguardadas diferenças temporais e de concepção, são, paradoxalmente, Estados de direito, pois ao assumirem o poder, ou usurpá-lo de seu legítimo representante eleito por voto popular, como no caso brasileiro, os grupos totalitários, ou ditatoriais, o fazem mantendo vigentes as constituições que foram promulgadas como guardiãs da democracia representativa dos respectivos povos e países.
No entanto, regimes totalitários e ditatoriais, justificando sua ação a partir de um suposto estado de emergência (a inferioridade racial judaica no interior da sociedade alemã no nazismo, a ameaça comunista que justificou o golpe de estado em 1964 no caso brasileiro, a crise financeira global de 2008 e o uso dos ativos públicos para salvar bancos e empresas privadas, as pedaladas fiscais de 2016 que permitiram o retomada do poder por parte da plutocracia novamente no caso brasileiro, a crise da pandemia do coronavírus, entre outros eventos desta natureza), instauram o estado de exceção, suspendem o ordenamento jurídico como justificativa de preservação da ordem política, econômica e democrática. No âmbito do estado de exceção, se justificam medidas excepcionais, que, no caso do regime totalitário nazista, implicou no extermínio nos campos de concentração de milhares de vidas de judeus, de eslavos, de homossexuais, entre outros grupos minoritários eleitos como inimigos do regime Nazi. No que concerne ao regime militar ditatorial brasileiro, implicou na perseguição, tortura e assassinato de dissidentes políticos do regime de exceção implantado em solo tupiniquim.
Nesta mesma direção, as declarações dos direitos humanos proclamadas no Ocidente deste o século XVIII (Declaração da Virgínia de 1776; Declaração Francesa dos Direitos do homem e do Cidadão de 1792; Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948, entre outros protocolos internacionais assinados no decorrer dos últimos séculos), demonstram de forma clarividente que o objeto da política por excelência na modernidade é a administrabilidade da vida biológica. Em nome da defesa da vida, o Estado totalitário nazista no exercício de seu poder soberano, sob a égide da Constituição Democrática de Weimar, instaurou o mais agressivo racismo de estado na primeira metade do século XX. Em nome da ordem, da propriedade, da família e, dos valores a ditadura militar brasileira no exercício de seu poder soberano, sob égide da Constituição democrática de 1946 e de sua reforma por meio de Atos Institucionais, entre eles o AI 5, perseguiu, torturou e executou brasileiros que, na visão ditatorial, ameaçavam contaminar a vida, o modo de vida da sociedade brasileira.
No contexto do pós-guerra volta a impor-se a ideologia de que a democracia representativa é um valor inquestionável. Um conceito absoluto. Sob seu manto liberdades individuais e coletivas encontram guarida. Instituições funcionam como pesos e contrapesos preservando o jogo de forças, as relações de poder. No entanto, o contexto pandêmico demonstra de forma clarividente que ainda não sabemos muito bem do que estamos falando quando falamos de democracia. Afinal, o que está em curso, sob o rótulo de democracia, não tem vinculação com pressupostos de democracia popular e participativa. Também não se apresenta como manifestação consistente de democracia representativa de amplos setores sociais que encontram representação suficiente em parlamentos, em congressos nacionais, ou mesmo na suposta interdependência dos poderes advogada nos primórdios do Estado moderno por juristas como Jean Bodin, Hugo Grotius e Montesquieu, entre outros.
O que se apresenta corriqueiramente como democracia é uma forma de governo desprovida de seus tradicionais adjetivos, repita-se: direta, popular, participativa, representativa. Nesta concepção de democracia não há espaço para o debate público, para a deliberação em torno das garantias do espaço público, de garantia de qualidade e extensividade dos serviços públicos. A cidadania, em sua concepção jurídica moderna, é a expressão do poder soberano ao demarcar, a partir do fato biológico da natalidade, o pertencimento do corpo biológico do cidadão aos interesses produtivos e de consumo dos grupos econômicos que controlam Estado.
Neste contexto é que se compreende a definição de cidadania moderna, a partir do qual é cidadão todo e qualquer indivíduo nascido, ou naturalizado, cuja vida biológica pertence ao Estado que pode deixá-lo viver, ou fazê-lo morrer de acordo com interesses do poder soberano. Talvez isto ajude a compreender que o cidadão na modernidade foi despejado da praça pública e das possibilidades de expressão e de suas ideias e concepções em torno daquilo que é público – ou, para dizer com Foucault, as pautas dos grupos de resistência foram incorporadas às pautas estatais, em uma complexa dinâmica de poder. Mais do que isto, direitos sociais, reconhecidos na primeira metade do século XX para interditar à difusão dos ideais revolucionários socialistas, são, agora, confiscados, revogados, negados diuturnamente, entre eles direitos trabalhistas, previdenciários, educacionais, de acesso a saúde pública de qualidade.
Porém, ato contínuo e, por reverso, este cidadão é acomodado na condição de indivíduo, único responsável pelo seu fracasso ou sucesso social – processo de (de)subjetivação dos indivíduos por meio do discurso neoliberal do “empresário de si”. Inserido na plena lógica da produção e do consumo equilibra sua vida a partir das pressões do crédito e do débito. Inseridos em sistemas informacionais e comunicacionais, é bombardeado por uma infinidade de informações de toda ordem conformando uma visão aligeirada e efêmera das mais diversas instâncias de mundo em que se encontra inserido. Este indivíduo, somado a milhares de outros indivíduos, no exercício de sua liberdade de expressão, conforma uma opinião pública revelando tendências de consumo, de produção, de crédito e débito.
Sob tais pressupostos, o contexto pandêmico escancara a manifestação de variáveis totalitárias presentes nas mais diversas sociedades contemporâneas em curso, que se manifesta no esvaziamento da democracia popular, participativa ou representativa, ou até mesmo no ódio à democracia tomada como excesso de garantias e de direitos aos mais diversos segmentos sociais – afinal de contas, quem trabalha e tem sucesso não tem tempo, e nem motivo, para se preocupar com a polis, ademais, a política passa a ser vista como tarefa exclusiva do Estado; daí exsurge um golpe de cena que convence os indivíduos acerca da superfluidade da participação popular. Estas variáveis totalitárias e seu ódio à democracia também encontram guarida na condição do individualismo extremado em que os indivíduos são situados como únicos responsáveis pelo seu sucesso ou fracasso na esfera da produção e consumo em torno da qual gravita sua vida e, por extensão, sua visão de mundo.
Assim, o desafio pós-pandêmico se apresenta no esforço de profanar a democracia sequestrada pelo Estado, pelas instituições a serviço das garantias contratuais com a economia especulativa financeirizada (concepção moderna que resulta de complexas estratégias de cooptação das reivindicações legítimas, descritas por Foucault em A verdade e as formas jurídicas) e devolvê-la a seu lugar comum, aos cidadãos, às comunidades, aos povos, que a partir de formas singulares de participação poderão retomar o debate em torno daquilo que é público, dos bens públicos, dos bens que são comuns e necessários à vida de povos e populações, mas, sobretudo à vida em sua totalidade. Urge retomarmos uma democracia que se constitua como manifestação e garantia do comum, e uma liberdade que não esteja atrelada à preexistência de propriedade privada, pois, num território ocupado irregularmente por milhões de proprietários de nada, o pré-requisito “propriedade privada” serve, ao fim e ao cabo, para interditar toda a potência da liberdade e barrar as aberturas por meio das quais a profanação pode penetrar para desativar alguns dispositivos da máquina político-jurídico-administrativa.





Seja o primeiro a comentar